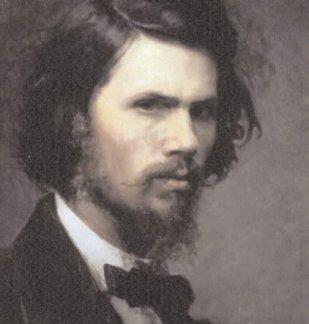Monarquia e monarquistas (2)
O Plebiscito de 1993
A campanha televisiva do Movimento Parlamentarista Monárquico ficou a cargo da agência de publicidade do jornalista Helio Bloch. O MPM era chefiado pelo deputado Cunha Bueno, em Brasília, e pelo economista Gastão Reis Rodrigues Pereira, no Rio de Janeiro. Ele se chocava com os princípios legitimistas dos líderes monarquistas conservadores que lhes haviam ajudado no recolhimento das assinaturas em 1987. Com jingles e slogans populares — Vote no Rei!, Vamos coroar a Democracia! —, a campanha caiu na boca do povo e ganhou a adesão de milhares de brasileiros pobres.
O MPM formulava que o “trono brasileiro pertence à Nação e, portanto, somente o parlamento (Congresso Nacional) poderia homologar o nome do primeiro chefe de Estado da reinstauração monárquica”. Tacitamente, contudo, o deputado Cunha Bueno e seus aliados apoiavam os chamados “príncipes de Petrópolis”.
Entre os líderes conservadores da velha Corte, despontava a figura do professor de História da SUAM e da Universidade Católica de Petrópolis, Otto de Alencar de Sá Pereira, antigo assessor-chefe de D. Pedro Henrique. Otto e os súditos fiéis de D. Luiz reuniam-se no Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. Em São Paulo, os fiéis a D. Luiz e D. Bertrand se aglutinavam na Pró-Monarquia, entidade ainda existente (www.monarquia.org.br). Nos demais estados, havia os círculos monárquicos legitimistas ou as representações regionais do MPM.
Foi o período que, inegavelmente, viu os monarquistas brasileiros numa militância ousada. Mesmo com suas idiossincrasias, aliadas à divisão existente entre os príncipes brasileiros, o parlamentarismo monárquico conseguiu obter quase 7 milhões de votos — equivalente a 13% dos votos válidos.
Segundo o historiador Ricardo Salles expõe em Nostalgia Imperial: “O fato é que, um século após sua proclamação, a República ainda não se considerava suficientemente legitimada. Apesar do aparente caráter anacrônico do plebiscito, da previsível vitória de uma solução republicana, da relativa indiferença popular e de um certo tom cômico que recobriu o episódio, não podemos subestimar seu valor simbólico. Nos debates que marcaram os acontecimentos, sempre esteve em pauta alguma referência ao regime monárquico do XIX. Suas virtudes ou mazelas comparadas com o século republicano foram ressaltadas e combatidas pelos dois lados (...)”
Quem seriam os nostálgicos do Império que teriam votado a favor da Monarquia no Plebiscito? Sabidamente apoiaram o MPM, nos anos de 1992 e 1993, inúmeros profissionais das ciências sociais: os antropólogos Roberto Damatta, Otávio Velho e Luís Fernando Duarte, por exemplo. O sociólogo Rubem César Fernandes, fundador da famosa ONG Viva Rio, aderiu à Monarquia. O jurista católico Célio Borja ou o economista Mário Henrique Simonsen, ex-ministros da Justiça e da Fazenda da República, também “votaram no rei”...
O publicitário Jorge Maranhão, gestor da OSCIP A Voz do Cidadão, que implementa oficinas de estudo da Cidadania em empresas públicas e privadas, é outro exemplo: “Votei na Monarquia e votaria de novo, se surgisse oportunidade”.
A realeza brasileira
Ano que vem o Brasil celebrará os 200 anos da chegada dos Bragança ao país. Se a monarquia ainda existisse, seus sucessores, os Orleans-e-Bragança, seriam reinantes e um deles seria o atual imperador.
Semanas antes do plebiscito, o jornalista Renato Machado, no programa Fantástico (TV Globo), fez a seguinte narrativa: “Poucas pessoas conhecem, de fato, a história da monarquia brasileira. A última a usar a coroa foi a Princesa Isabel e foi ela mesma quem causou a ‘confusão’. A Princesa teve três filhos: D. Pedro, D. Luiz e D. Antonio. O mais velho seria o sucessor natural, mas ele renunciou para se casar com a condessa de Dobrzensky, de família nobre, mas não real.”
Com essas poucas palavras, Machado foi ao cerne daquilo que divide tanto a família Orleans-e-Bragança quanto os monarquistas brasileiros. Essa renúncia, ocorrida em 1908, em Cannes (França), deu-se após longos anos de reflexão de D. Pedro de Alcantara (1875-1940), o neto de D. Pedro II que fora príncipe do Grão-Pará do nascimento até o dia em que o avô morreu em Paris e ele tornou-se, pela tradição dinástica, o príncipe imperial, herdeiro imediato da imperatriz de jure, D. Isabel I. A maioria imagina que a pressão exercida por D. Isabel junto ao seu primogênito era ocasionada exclusivamente pelo noivado com a baronesa Elisabeth Dobrzenska de Dobrzenicz — cujo pai fora elevado a conde titular e par do reino da Bohêmia por Franz Joseph I —, mas não era. Os sogros gostavam muito de Elsie, como era chamada a futura D. Elisabeth de Orleans-e-Bragança, e o Conde d´Eu a tinha como prima distante.
Há vários outros motivos que levaram D. Pedro de Alcantara a renunciar em 1908. Seja como for, esta renúncia teve caráter irrevogável e foi extensiva aos descendentes eventuais da união. Foram eles os príncipes de Orleans-e-Bragança D. Isabel (1911-2003), a futura Condessa de Paris; D. Pedro Gastão (1913); D. Maria Francisca (1914-1968), a futura Duquesa de Bragança; D. João (1916-2005) e D. Thereza (1919), que vive em Estoril, Portugal.
O filho único de D. João é o carismático príncipe D. João Henrique (1954) — mais conhecido como “D. Joãozinho” —, dono da Pousada do Príncipe em Paraty e o mais midiático membro da família.
Do casamento de D. Luiz com D. Maria Pia de Bourbon, princesa das Duas Sicílias, prima-sobrinha da Redentora, nasceram D. Pedro Henrique (1909-1981), D. Luiz Gastão (1911-1931) e D. Pia Maria (1914-2000), príncipes do Brasil e de Orleans-e-Bragança. O neto primogênito e herdeiro de D. Isabel foi batizado pomposamente, em 1909, no palacete de Boulogne-sur-Seine, e reconhecido como príncipe do Grão-Pará por todos os órgãos monarquistas existentes no Brasil. Havia também vários nobres brasileiros que compunham essa espécie de “Corte no exílio” que rodeava D. Isabel em Paris e no castelo de Eu, propriedade de D. Gastão (1842-1922), seu marido e mais conhecido justamente como Conde d´Eu, por causa do título com que o avô (Louis-Philippe I) o agraciara no dia do nascimento.
No final de 1920, após a morte de D. Luiz, a República brasileira assegurou-se de que não havia mais real perigo de restauracionismo e revogou o banimento da Família Imperial, convidando os príncipes a regressarem à Pátria e solicitando de D. Isabel permissão para a trasladação dos restos mortais de D. Pedro II e D. Teresa Cristina para o Rio de Janeiro. Os despojos foram trazidos por D. Gastão, D. Pedro de Alcantara, D. Elisabeth e filhos e D. Maria Pia (viúva) e filhos. Daí a dois anos, o Brasil festejaria o Centenário da Independência (1922).
Em 14 de novembro de 1921, D. Isabel faleceu. Somente restava vivo seu primogênito. O filho mais novo, D. Antonio (1881-1918), havia morrido sem sucessão, de uma queda de avião. Dinasticamente, a chefia da Casa Imperial passou ao neto D. Pedro Henrique, de 12 anos, ainda que a “governança” da família ficasse nas mãos de D. Pedro de Alcantara.
Na década de 1940, após a morte de D. Pedro de Alcantara, seu primogênito D. Pedro Gastão decidiu reverter a renúncia paterna e passou a se considerar herdeiro da coroa brasileira. Em 1946, a família foi aos tribunais, não por causa dos direitos ao trono, mas por causa das ações da Companhia Imobiliária de Petrópolis. Nessa causa perdida por D. Pedro Henrique, D. Pedro Gastão e os irmãos ficaram sendo os únicos proprietários da enfiteuse de Petrópolis, remanescente das terras da fazenda do Córrego Seco, comprada por D. Pedro I na década de 1820.
Em 1971, os primos todos se reuniram para trasladar do Rio de Janeiro à Catedral de Petrópolis os restos mortais da Redentora e do marido. Foi aí que surgiu, na imprensa, a expressão “ramos de Vassouras e de Petrópolis da família imperial”.
No mesmo ano (1981) em que seus filhos D. Eleonora e D. Antonio João se uniram a dois irmãos belgas, os príncipes Michel e Christine de Ligne, garantindo a continuidade da dinastia do Brasil, D. Pedro Henrique faleceu em Vassouras, legando a chefia da Casa Imperial a D. Luiz (1938), celibatário e membro da extinta TFP (Tradição, Família e Propriedade), associação de extrema-direita católica jamais apoiada pela CNBB.
D. Luiz e seu irmão-sucessor, D. Bertrand (1941), sempre foram considerados politicamente inviáveis, justamente pela afiliação à TFP, mas nunca renunciaram. Vivem em São Paulo, onde administram a Pró-Monarquia e visitam o Rio anualmente para celebrar, no Outeiro da Glória, o aniversário de D. Luiz todos os 6 de junho.
A maior parte dos monarquistas brasileiros deposita em D. Pedro Luiz (1983), primogênito de D. Antonio João, todas as esperanças e aspirações. O jovem príncipe, graduado em Administração pelo IBMEC do Rio de Janeiro, vive atualmente no Grão-Ducado de Luxemburgo, onde trabalha no sistema financeiro.
D. Pedro Luiz, um Orleans-Bragança-Wittelsbach-Ligne-Bourbon-Nassau-Weilburg, três vezes descendente direto de D. João VI e três vezes descendente colateral de Maurício de Nassau, poderá ser um D. João IV — o Restaurador — para o Brasil do século XXI, transformando assim em realidade política e social o sebastianismo dos monarquistas.
Sobre ele falam com brilho nos olhos os pais, a avó D. Maria da Baviera (viúva de D. Pedro Henrique), tios e primos. Oxalá tenham todos a sorte de que o príncipe corresponda a tantas expectativas...
Sobre ele falam com brilho nos olhos os pais, a avó D. Maria da Baviera (viúva de D. Pedro Henrique), tios e primos. Oxalá tenham todos a sorte de que o príncipe corresponda a tantas expectativas...
Publicado, com edições, na Revista BR HISTÓRIA (abril de 2007).