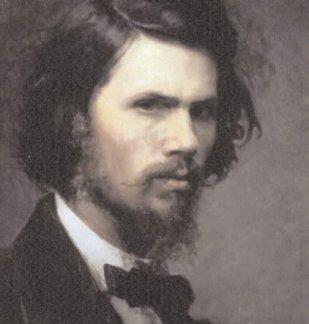O célebre historiador belga Prof. Dr. Christian Cannuyer (orientalista e egiptólogo — e também genealogista) coloca na introdução de sua obra Les Maisons Royales et Souveraines d´Europe um artigo intitulado Le Phénomène Monarchique dans l´Histoire, do ainda mais célebre Roland Mousnier, do Institut de France, que diz o seguinte — eventuais grifos nossos:
“O governo de um só, ou ao menos, a autoridade suprema de um só sobre algumas partes, julgadas essenciais, da vida de uma sociedade, é a forma política mais difundida do mundo, provavelmente desde o Neolítico. (...)
“Em sua sagração, o Rei de França recebe um anel, que o Arcebispo de Reims lhe põe no quarto dedo da mão direita e abençoa. Assim, o Rei desposa solenemente seu Reino, e é unido aos seus súditos inseparavelmente como pelo laço do matrimônio para ‘mutuamente se entreamarem como fazem os esposos’. Como os esposos só podem formar uma carne, Rei e Reino também só devem ser uma. Como os esposos devem estar unidos como Cristo e Sua Igreja, assim o Rei e seu Reino [Povo, Estado, Nação]. É disso que vem a teoria do corpo místico da Monarquia: o Rei é o chefe e o Povo das três ordens são os membros e todos juntos formam o corpo político e místico. Então o Rei, como cabeça, interpreta os anseios e necessidades do corpo. Ele sente, compreende e desempenha sua vontade profunda, mesmo pouco consciente, mesmo inconsciente. No Conselho, nos Estados Gerais, em seu Parlamento, em matéria de Estado, em Política, ele pode decidir contra a opinião da maioria. Esse acordo profundo e constante da vontade do Rei e da vontade real de seu Povo, esta sorte de Infalibilidade Real, é o que os franceses [e muitos outros povos...] chamam de ‘mistério da monarquia’. Disso resulta que o Rei deva governar a si mesmo, tome conselhos e mesmo ‘grandes conselhos’ mas tome a decisão por si próprio. Para tanto, ele recebe as graças divinas e a iluminação do Espírito Santo.
“O Arcebispo de Reims e os Pares de França coroam o Rei rogando para que ‘Tu sejas, contra todas as adversidades, o assistente e defensor da Igreja de Cristo e do Reino, que te é dado por Deus’. É de Deus que o Rei recebe o seu Reino. Ele é Rei ‘pela Graça de Deus’, mandatário do Reino.
“Ele é Rei de par Dieu. Por muito tempo os franceses pensaram que o Rei recebia seu Reino mediatamente de Deus, por intermédio do Povo. Mas após dois regicídios, num período de 21 anos (Henrique III, em 1589 e Henrique IV, em 1610), a idéia triunfante foi a de que o Rei recebia seus poderes diretamente de Deus, sem intermédio do Povo; ele obtinha sua Coroa de Deus somente. É a teoria do Direito Divino dos Reis, que se tornou Lei do Estado, sob Luís XIV, pela declaração de 19 de março de 1682. Assim, o Rei é responsável somente perante a Deus. Os Reis são vigários e lugar-tenentes de Deus. ‘Os Reis são verdadeiramente imagem viva e animada de Deus’, dizia a Oração Fúnebre de Henrique III. (...) A Monarquia da França foi sem dúvida a mais perfeita nesse gênero. Mas as outras Monarquias européias participaram, em graus diferentes, de suas características, no espírito dos Povos.”
Após as referências detalhistas ao fenômeno monárquico francês, ele cita uma série de exemplos acerca das origens das instituições monárquicas pelo mundo afora, perscrutando as teorias de divinização ou semi-divinização da Realeza desde os tempos imemoriais — contudo ressaltando que muito provavelmente foi a partir do Egito Antigo que o fenômeno monárquico concebeu suas formas e conteúdos centrais e mais característicos, formas essas que depois seriam quase sempre legadas aos povos por eles dominados e/ou influenciados; os conteúdos variaram, pode-se dizer, mas as formas do fenômeno monárquico estarão sempre, ao que tudo indica, apontando para as origens faraônicas. Em tais teorias cria o colossal Georges Dumézil (historiador, lingüista, etc.), como crêem atualmente os mais diversos profissionais de História Antiga.
A brilhante finalização de Mousnier conclui que a permanência das Monarquias indica a permanência do mágico-religioso entre nós. É assim que, diz ele, o mais “contemporâneo dos noruegueses” rejubila-se de qualificar seu Rei como “democrata”.
Em nossas palavras, seria algo próximo de dizer: “A Noruega é democrática, logo o Rei é democrata”; sem perceber, inconscientemente, o súdito/cidadão nórdico está assimilando Rei e Nação. O Estado-Nação norueguês democratizou-se, logo o Rei, que é este Estado, que é esta Nação, também o fez... É como se houvesse imperativos categóricos em tais constatações e como se o contrário — a possibilidade de o Rei não ser democrata — inviabilizasse toda a lógica daquela permanência monárquica. O mágico-religioso é o Estado, se diria em formulações de origem hegeliana.
O Chefe do Estado é o Monarca, logo o Estado é monárquico, mas bem sabemos que o Estado é atualmente bem mais democrático, logo o Chefe do Estado tem de ser... o DEMOCRATA! É isto o que formulam, inconscientes, os citados noruegueses, mas também os dinamarqueses, os holandeses, os belgas, etc., pouco importando aqui, nessas formulações — que são idealizações quando conscientes —, se Harald, Margrethe, Beatrix ou Albert, enquanto indivíduos, são verdadeiramente democráticos...
Grandes questões se colocam daí por diante. As origens da Monarquia perdem-se nos tempos; contudo, as suas origens enquanto forma de governo classificada/nomeada as encontramos nos sistemas clássicos tanto de Platão, quanto de Aristóteles ou Políbio.
A premissa básica em nossas colocações será sempre a de que o SER HUMANO É MONÁRQUICO e isto deve ficar bem compreendido desde já.
Não somos naturalmente — o correto, na Contemporaneidade, ou na “Pós-Modernidade”, seria dizer culturalmente, o que para nós parece de fato mais crível e assimilável — monarquistas, mas teríamos, isto sim, em nossa análise, a condição cultural de HOMUS MONARCHICUS.
Portanto, o governo de um é anterior historicamente, ao que tudo indica, ao governo de poucos, que por sua vez antecede ao governo de muitos. Assim consideramos MONARQUIA precedendo à ARISTOCRACIA, que por sua vez antecede à DEMOCRACIA.
Tanto em Aristóteles quanto em Políbio os esquemas representativos das formas de governo indicam as degenerações que estas mesmas formas podem gerar: TIRANIA como corrupção da Monarquia; OLIGARQUIA como corrupção da Aristocracia e DEMAGOGIA (ou “Oclocracia”), como corrupção da Democracia.
O “grego helênico” Platão talvez deva ser encarado mais como um portentoso pró-aristocrático. O “grego macedônico” Aristóteles pode ser visto como maior partidário da Monarquia entre os três citados; sua defesa da mistura de Monarquia com Aristocracia e Democracia é a mais enfática — a qual será mais tarde aproveitada e relida por Santo Tomás de Aquino. Já o “grego romano” Políbio também seria mais um “pró-aristocrático” que qualquer outra coisa. Os nossos excessos de arbitrariedade ao “nomear” os mestres antigos devem ser francamente perdoados pelos mais velhos e doutos que nós. Assim rogamos.