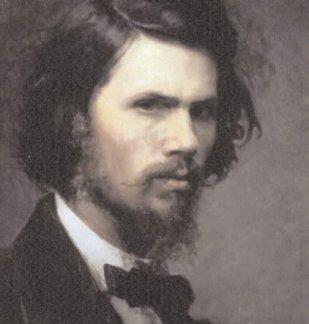Inspirado por uma excelente mini-reportagem do jornal BOM-DIA BRASIL que a TV Globo acaba de transmitir e pelo texto que a jornalista Vilma Gryzinski publicou em VEJA desta semana, dirijo-me aos amigos e associados do Instituto D. Isabel I para tecer alguns comentários sobre o dia de hoje.
Há 118 anos, uma quartelada depôs o gabinete ministerial chefiado pelo Visconde de Ouro Preto e, horas depois, a movimentação de republicanos como Quintino Antonio Ferreira de Sousa Bocayuva, Benjamin Constant Botelho de Magalhães e Floriano Vieira Peixoto levou o debilitado Marechal do Império Manoel Deodoro da Fonseca a assinar um documento — que parece ter sido chamado por ele de “porcaria” — de “proclamação provisória da República” no Brasil.
Na madrugada de 16 para 17 de novembro, os Imperadores, os Príncipes Imperiais e os príncipes netos de D. Pedro II foram banidos do território nacional por uma ordem arquitetada já por Ruy Barbosa de Oliveira — que prontamente aderira ao golpe de Estado, uma vez que apesar de não se dizer republicano oficialmente, era um anti-isabelista radical —, Aristides da Silveira Lôbo e outros republicanos, positivistas radicais, que deram suporte, digamos assim “intelectual”, àquilo que muito qualificadamente D. Pedro II chamou de “maluquice” e que D. Isabel resumiu no documento Memória para meus filhos da seguinte forma:
Grande incúria, muita falta de cuidado, sobretudo por parte dos ministros da Guerra e Justiça, personificados no Corrêa de Oliveira; corda esticada demais pelo Corrêa de Oliveira e Ouro Preto; Exército ou, antes, oficiais muito minados pelas idéias republicanas e sabendo proceder com muita discrição; tolice do Deodoro que, estou convencida, foi mais longe do que queria; esperteza do Bocayuva e Benjamin Constant que souberam aproveitar a ocasião; verdadeiro ratoeiro para o Ministro [Ouro Preto] e para nós, e, finalmente, força maior que decidiu tudo.
O jornalista que acaba de apresentar a reportagem de BOM-DIA BRASIL — se não me engano, Flavio Fachel é o seu nome — resumiu com clareza o que foi o 15 de Novembro de 1889: confusão. A República brasileira já nasceu confusa e, o pior, ignorada. Assim ela se mantém até hoje, sob diversos aspectos, perante o grosso da população brasileira. Ao contrário do que diz a historiadora carioca Margarida de Souza Neves em um de seus textos sobre a temática, a República não é comemorada anualmente no Brasil, seja em 15 de Novembro e, menos ainda, 7 de Setembro. Há festas oficiais, isso é inegável, mas nada que ressoe popularmente. Sinto-me à vontade para dela discordar, sendo seu ex-aluno de PUC-Rio...
Um conjunto de conspirações tolstoianas deu cabo da Monarquia no Brasil, não porque ela fosse impopular, ao contrário... mas porque ela estava cada vez mais popular. É o que nos elucida em Os Bestializados (1988) e em Formação das Almas (1991) o historiador mineiro José Murilo de Carvalho. De fato, é este o pensamento do Instituto D. Isabel, acerca da transição do XIX para o XX no Brasil: ignorando-se, como se ignora em larga escala, por parte de historiadores e cientistas sociais, o abolicionismo e o isabelismo, não se compreende, jamais, como tudo se processou em novembro de 1889.
Por outro lado, os conluios de republicanos e cassandras de plantão souberam explorar com maestria as sinuosidades da Família Imperial: D. Pedro II velho e doente, D. Isabel imperiosa e unida matrimonialmente ao príncipe francês Gaston de Orleans (Conde de Eu), que, embora querido por grande parte da população, era detestado por militares conservadores, sendo ele militar liberal. O casal ultra-católico era antipatizado pelos setores — mínimos, vale dizer — intelectualizados das classes médias urbanas e rurais que se imbuíam das teorias cientificistas vindas da Europa de então. É nesse contexto, o do cientificismo, que uma teoria como a do positivismo encontrou receptáculo entre jovens acadêmicos. E é também dentro dessa mesma atmosfera que se pode atribuir algum tipo de “republicanismo” a D. Pedro II. Fora dessa contextualização, é pura fantasia imaginar que o Imperador — que o fora desde os 5 anos de idade — fosse republicano... embora seja aceitável supor sua ambigüidade em relação ao reinado de uma filha muito amada mas tão diversa dele em alguns aspectos, por mais que suas prerrogativas de herdeira fossem constitucionalíssimas. Sobre parte dessas conspirações é interessante a leitura do romance histórico O príncipe maldito, de minha também ex-professora Mary Del Priore, lançado recentemente pela Ed. Objetiva.
Ao contrário do que parece crer nossa jornalista de VEJA, em seu primoroso artigo publicado ontem (O Rei e nós – ed. 2034), D. Isabel não era rechaçada por monarquistas fiéis como futura Imperatriz (p. 118). Não há qualquer indício desse tipo de comportamento nos maiores líderes políticos de então que se mantinham leais ao regime e à Casa de Bragança. O III Reinado de Joaquim Nabuco, André Rebouças, Affonso Celso e vários outros, ou seja, os mais próximos da Redentora em idade e ação abolicionista — independentemente do tipo de matriz filosófica que gerasse o abolicionismo de cada um —, estava tão próximo que foi abortado. A teia de insanas conjurações de alguns chefes militares e positivistas ocasionou um golpe de surpresa, em resposta ao qual, diz D. Isabel “ninguém poderia fazer senão o que fizemos”. Leia-se: aceitar a imposição do banimento e partir rumo ao exílio na Europa, evitando assim uma guerra civil que certamente ocorreria entre cadetes exaltados do Exército e Guarda Negra.
É bem verdade que Vilma Gryzinski retirou suas impressões a respeito da pseudo-antipatia a D. Isabel do capítulo 27 do recente sucesso editorial D. Pedro II, ser ou não ser (Cia. das Letras), de José Murilo de Carvalho. O emérito acadêmico da ABL com quem tive a honra de conversar na defesa de tese de doutoramento de meu amigo Robert Daibert Jr. na UFRJ, em março último, é o maior especialista em Império do Brasil que existe nos meios acadêmicos nacionais. Parte de sua obra, até onde posso perceber, é inspirada na historiografia do grande historiador e cientista político mineiro João Camillo de Oliveira Torres, infelizmente desconhecido dos jovens graduandos e pós-graduandos em História pelo Brasil afora.
Prof. José Murilo vai certamente perdoar minha franqueza, ao considerar impreciso dizer que o III Reinado não estava alicerçado porque, certa feita, o velho Conselheiro José Antonio Saraiva disse ao Imperador: “Majestade, o reinado de sua filha não é deste mundo”, aludindo ao texto evangélico em que Jesus Cristo negava-Se a apresentar como soberano político temporal, preferindo a realeza messiânica universal ao trono davídico ao qual teria direito.
Ora, é inegável que o ultramontanismo e o abolicionismo católico da Princesa Imperial do Brasil provocavam fúria nos meios conservadores e reacionários da política patriarcalista, mandonista e, mais tarde — na República Velha — avassaladoramente coronelística do Brasil de fins do Oitocentos. Mas não era esse o leitmotiv do desprezo e despeito nutridos por aquela que o povo chamava de “Redentora”, de “Loura Mãe da Raça Negra”: era pelo fato de ela ser MULHER.
Lembro-me perfeitamente das histórias contadas por minha avó paterna — cujo apelido de vida toda, Sinhazinha, era marca profunda da origem na aristocracia rural decadente da Zona da Mata mineira-fluminense — sobre a repulsa sentida pelos homens do interior quando souberam que a Princesa Imperial Regente sancionara a LEI ÁUREA. Meu bisavô, Antonio Antunes de Siqueira, recusava-se até a dar a mão a um preto que lha estendesse, vociferando: “Tu não te enxergas, negro!”...
O orientando do Prof. José Murilo, Robert Daibert Jr., acaba de se doutorar no IFCS precisamente defendendo a tese de que o catolicismo de D. Isabel estava inserido num projeto político maior e que as bases para o III Reinado eram sólidas, ao menos entre negros e pobres em geral — maioria da população à época. O tal referendo, prometido na Proclamação, só foi concretizado 104 anos depois, quando os liames entre a Casa Imperial e o Povo brasileiro foram perdidos e a ignorância sobre o processo de transição da Monarquia para a República — ou, como sempre prefiro, em termos freyreanos, “do Processo de Desintegração das Sociedades Patriarcal e Semipatriarcal no Brasil sob o Regime de Trabalho Livre: Aspectos de um Quase Meio Século de Transição do Trabalho Escravo para o Trabalho Livre; e da Monarquia para a República”, subtítulo de Ordem e Progresso (1959) — se tornou a regra, mesmo em meios universitários.
Ao proclamar com veemência que os brasileiros não são republicanos e não festejam a República, preferindo, ao menos os cariocas, chamarem de “Palácio do Catete” ao Museu da República e de “Campo de Sant´Anna” à Praça da República, não quero com isso dizer que sejamos monarquistas. Longe disso, demonstrou-se no Plebiscito de 1993 que os brasileiros são desinformados e pessimamente instruídos. Conforme já disse o Prof. Francisco Weffort, ex-ministro da Cultura, existe um “déficit cultural” gigantesco de nossa população no que tange aos símbolos da Nacionalidade.
Esse verdadeiro descalabro (des)educacional não pode permanecer, sob pena de jamais atingirmos a Res Publica sonhada por todos os intelectuais que se prezem. Seja com um chefe de estado vitalício e hereditário (parlamentarismo monárquico), seja com um eleito (parlamentarismo republicano ou presidencialismo), os brasileiros têm de saber discernir o que é melhor para eles num referendo onde os índices de analfabetismo histórico-cultural sejam baixíssimos, senão inexistentes. Para tanto, é necessário repetir: queremos EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO & EDUCAÇÃO.
Em meio à insuficiência de nossos sistemas de ensino, nas três instâncias, formulamos o NEO-ABOLICIONISMO — http://www.idisabel.org.br/portugues/neo-abolicionismo.pdf. Pode ser contribuição pequena e apenas ideal, mas ao menos tem o mérito de se basear na História do Brasil.
Por fim, é bom lembrar, cara Vilma Gryzinski, que a sinonímia de democracia e democrático para os vocábulos república e republicano só é entendida assim por povos como os norte-americanos, os franceses, os finlandeses, os irlandeses et alii, enquanto que para os dinamarqueses, suecos, noruegueses, holandeses, luxemburgueses, britânicos, canadenses, neozelandeses et alii monarquia constitucional-parlamentar é que é sinônimo de democracia. Do contrário, cabe perguntar aos birmaneses, laocianos, indonésios e uma infinidade de povos asiáticos e africanos se as repúblicas em que vivem são democráticas: as respostas, se puderem ser ouvidas, serão negativas...
Contando com a indulgência de meus caros leitores, ouso inserir abaixo um texto em Francês, proveniente do serviço de informação belga que recebo diariamente. Trata-se de notícia enviada ainda agora, sobre a comemoração da “Festa do Rei” ou “Festa da Dinastia”, que, juntamente com o 21 de Julho (dia da chegada triunfal de Leopold I em Bruxelas - 1831), é o feriado nacional da Bélgica. Este pequeno Estado europeu com o qual o Brasil tem vínculos interessantíssimos e pouco estudados — nossas relações bilaterais jamais foram alvo de uma obra de vulto —, no que se refere às suas Realezas, vive as agruras de manter uma federação tensa de valões (francófonos) e flamengos (neerlandófonos). Sem a monarquia, exatamente como ocorreu com o Brasil no séc. XIX, a Bélgica não mais existiria.
Somos 279 vezes maiores, em extensão territorial, do que nossos irmãos belgas, mas isso não pode significar o menosprezo pelas lições que a História da Bélgica poderia proporcionar aos brasileiros. Em 176 anos de independência nacional, eles construíram uma verdadeira república (res publica).
E nós, o que construímos?
Bruno de Cerqueira (28),historiador e monarcólogo,
Organizou o livro “D. Isabel I a Redentora: textos e documentos sobre a Imperatriz exilada do Brasil” (IDII, 2006).
La Belgique rend hommage à son souverain
SOCIéTé jeu 15 nov
La Belgique célèbre ce jeudi la traditionnelle Fête du Roi. Le 15 novembre entend rendre hommage au souverain et le remercier pour le travail qu'il accomplit. Une célébration qui prend tout son sens en cette période de crise politique durant laquelle Albert II, convalescent, est fort sollicité.
Une tradition qui remonte à Léopold II
On fête le roi depuis le 15 novembre 1866, année sous le règne de Léopold II. Cette date a été choisie parce que, selon le calendrier liturgique germanique, c'est le jour de la Saint Léopold. Après avoir été déplacée à quelques reprises, cette date a été définitivement fixée après l'intronisation de Léopold III en 1934.
Pour de nombreux Belges, la date du 15 novembre correspond encore à la "Fête de la Dynastie". Or, cette appellation avait uniquement été utilisée lors de la régence du prince Charles (1944-1950), puisqu'il n'était pas roi. Le frère de Léopold III devait assumer la régence car le souverain se trouvait à l'étranger en raison de la 'Question royale'.
Te Deum et visite au parlement fédéral
Comme le veut la coutume, Albert II n'assistera pas à ces événements. La reine Fabiola, le prince Philippe et la princesse Mathilde, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire assisteront à 10 heures au Te Deum, célébré par le cardinal Danneels et chanté en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles.
Ces mêmes personnalités royales se rendront ensuite à 16h30 au parlement fédéral à Bruxelles pour y célébrer la Fête du Roi. Elles sont invitées par le président de la Chambre, Herman Van Rompuy, et le président du Sénat, Armand De Decker, ainsi que le premier ministre, Guy Verhofstadt. Le thème choisi cette année est: "La Belgique et la coopération internationale". A l'issue des discours des trois hommes politiques et de témoignages de volontaires de la coopération au développement, le chanteur Helmut Lotti interprétera la Brabançonne. Une réception suivra la cérémonie académique.
Parade militaire devant le palais royal
Par ailleurs, une cérémonie militaire d'hommage se déroulera à 14h10 devant le palais royal avec la participation d'un détachement de la garde d'honneur. Le commandant du détachement de COMOPSNAV (commandement opérationnel de la marine) prononcera, au nom du personnel de la Défense, le message que les unités adressent traditionnellement au roi en cette occasion. La famille royale n'assistera pas à cette parade.
Une tradition qui remonte à Léopold II
On fête le roi depuis le 15 novembre 1866, année sous le règne de Léopold II. Cette date a été choisie parce que, selon le calendrier liturgique germanique, c'est le jour de la Saint Léopold. Après avoir été déplacée à quelques reprises, cette date a été définitivement fixée après l'intronisation de Léopold III en 1934.
Pour de nombreux Belges, la date du 15 novembre correspond encore à la "Fête de la Dynastie". Or, cette appellation avait uniquement été utilisée lors de la régence du prince Charles (1944-1950), puisqu'il n'était pas roi. Le frère de Léopold III devait assumer la régence car le souverain se trouvait à l'étranger en raison de la 'Question royale'.
Te Deum et visite au parlement fédéral
Comme le veut la coutume, Albert II n'assistera pas à ces événements. La reine Fabiola, le prince Philippe et la princesse Mathilde, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire assisteront à 10 heures au Te Deum, célébré par le cardinal Danneels et chanté en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles.
Ces mêmes personnalités royales se rendront ensuite à 16h30 au parlement fédéral à Bruxelles pour y célébrer la Fête du Roi. Elles sont invitées par le président de la Chambre, Herman Van Rompuy, et le président du Sénat, Armand De Decker, ainsi que le premier ministre, Guy Verhofstadt. Le thème choisi cette année est: "La Belgique et la coopération internationale". A l'issue des discours des trois hommes politiques et de témoignages de volontaires de la coopération au développement, le chanteur Helmut Lotti interprétera la Brabançonne. Une réception suivra la cérémonie académique.
Parade militaire devant le palais royal
Par ailleurs, une cérémonie militaire d'hommage se déroulera à 14h10 devant le palais royal avec la participation d'un détachement de la garde d'honneur. Le commandant du détachement de COMOPSNAV (commandement opérationnel de la marine) prononcera, au nom du personnel de la Défense, le message que les unités adressent traditionnellement au roi en cette occasion. La famille royale n'assistera pas à cette parade.