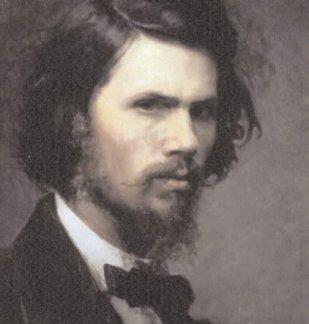Dona
Sinhazinha, minha Avó: paradoxos da humana condição
Recorrentemente lembro-me
de minha querida avó, Dona Maria Amélia da Conceição, conhecida toda a vida
por Sinhazinha.
Ela se foi em 19 de junho
de 2005, em Niterói.
Nascida no reinado do Papa Bento XV (1854-1922), despediu-se
da vida terrena no de Bento XVI.
Minha avó era uma
Antunes de Siqueira, família que Carlos Barata indica em seu “Dicionário das
Famílias Brasileiras” (Rio de Janeiro, 1999, tomo I, vol. I, página 226) desta
forma:
ANTUNES SIQUEIRA -
Família de abastados proprietários rurais estabelecida na Zona da Mata de Minas
Gerais. Descendem de Francisco Antunes de Siqueira, nasc. por volta de 1757,
natural da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção do Couto de Alvim em Portugal,
filho de Francisco Antunes e de Isabel de “Cerqueira”. Passou ao Brasil, onde
casou, por volta de 1780, com Teodora Dias Pereira, natural da Freguesia de
Barbacena deste Bispado de Mariana, Minas Gerais. Entre os descendentes do
casal: I – o filho, Capitão Francisco Antunes-de Siqueira, natural de Portugal
e fal. cerca de 1829. Com grande geração deixada do seu cas. com Maria Angélica
de Magalhães, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Catas
Altas, no Bispado de Mariana (MG), filha de Bernardo de Magalhães e de Joana
Angélica Álvares; II – o neto, José Antunes de Siqueira, filho do item I, que
deixou geração do seu cas. com Laura Pereira Franco; III – o neto, Francisco
Antunes-de Siqueira, filho do item I, natural da cidade de Piau - Minas Gerais,
e falecido a 23.08.1881, em Angustura, Minas Gerais. Com geração do seu
casamento com Francisca Carolina Côrtes Couto, falecida em Madre de Deus do
Angu, atual Angustura - Minas Gerais, filha de Francisco Gonçalves Couto e de
Ana Gonçalves Côrtes; IV – o neto, Antonio Antunes de Siqueira, filho do item
I, nasc. em 1808, e falecido a 13.07.1874, em Madre de Deus do Angu, atual
Angustura - Minas Gerais. Major; fazendeiro, proprietário da fazenda da Glória,
Angustura (MG). Chefe do ramo de Juiz de Fora, do seu casamento com Josefina
Emilia Villas Boas Coutinho, nasc. a 28.11.1821, no Pará, e falecida a 24.04.1914,
em sua residência, no Largo da Grama, em Leopoldina, filha de José Alexandrino
Vilas Boas Coutinho e de Lourença Emília Cavalcanti Jorge; V – o neto, Bernardo
Antunes de Siqueira, filho do item I, que deixou geração do seu cas. com
Francisca Veridiana de Padilha; VI – o neto, Domingos Antunes de Siqueira,
filho do item I, que deixou geração do seu cas., a 17.04.1844, em São Januário de Ubá -
Minas Gerais, com Maria Emília de Oliveira, filha do alferes João Antunes
Nepomuceno e de Francisca Candida Umbelina (Barata, Famílias de Ubá); VII – o
bisneto, Tobias Antunes Franco de Siqueira Tolendal, filho do item II, nascido
em 1847, em Rio Novo ,
Minas Gerais. Com geração do seu segundo casamento com Minervina Amelia
Spindola; VIII – o bisneto, Antônio Antunes de Siqueira, filho do item III, que
deixou geração do seu casamento com Amélia Peixoto; IX – o bisneto, Francisco
Couto Antunes de Siqueira, filho do item III, que deixou geração do seu
casamento com Maria Balbina de Figueiredo Côrtes; X – o bisneto, Antônio
Antunes Siqueira, nascido em 1848, em Angustura, Minas Gerais, MG, que deixou
geração de seu cas., a 26.08.1871, na Madre de Deus do Angu, atual Angustura,
com Ana Elisa Vidal Leite Ribeiro, natural de Leopoldina - Minas Gerais, filha
de Manuel Vidal Leite Ribeiro e de Maria Teresa Monteiro de Barros, da
importante família Vidal Leite Ribeiro (v.s.), de Minas Gerais; XI - a bisneta,
Maria José Villas Boas de Siqueira, irmã do anterior, baronesa de Bonfim, por
seu casamento, a 29.07.1879, no Rio de Janeiro, com José Jeronimo de Mesquita,
nascido a 15.11.1856, no Rio de Janeiro, onde faleceu a 23.09.1895. Foi
abastado capitalista, fazendeiro e proprietário. Era comendador da Imperial
Ordem da Rosa. Agraciado com o título de barão de Bonfim, por Decreto de
19.08.1888. Filho do Barão, Visconde e Conde de Mesquita, Jeronimo José de
Mesquita e de Maria José Willoughby da Silveira. O casal recebeu de presente de
casamento do avô do noivo (Marquês) a Fazenda Paraizo, no distrito da
Providência, Município de Leopoldina, onde ainda residia a baronesa em 1906.
Antonio Antunes de
Siqueira (1853-1935), pai de nossa Sinhazinha, era um típico patriarca
rural, dos tantos que Gilberto Freyre pesquisou e brilhantemente apresentou em Casa-Grande
e Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso, sua
trilogia explicatória do Brasil.
Antonico Antunes
era um “coroné”, ainda que eu desconheça qual tenha sido sua patente da Guarda
Nacional. Sei que foi “intendente municipal” em Itaperuna e chefe republicano,
mas não pesquisei os detalhes de sua carreira política. Antes de desposar minha
bisavó, a bondosa sinhazinha Maria Amélia Ribeiro (1875-1965), ele havia sido
casado com duas outras sinhazinhas do Noroeste Fluminense, Umbelina Elvira de
Figueiredo Firmo e Úrsula Dias Fragozo. Desses casamentos ele trouxe para a
terceira esposa oito filhos para que ela criasse. O problema é que minha bisavó
já era viúva... Seu primeiro marido era ninguém menos que seu padrinho de
batismo, com o qual havia sido unida aos 12 anos por vontade paterna e com as
devidas dispensas episcopais... O padrinho-marido era o Capitão da Guarda
Nacional Francisco Teixeira de Siqueira Sobrinho[1], o famoso Chiquinho
do Barro Branco, dono de toda essa região do atual Município de Bom Jesus
do Itabapoana (RJ). De uma primeira esposa Chiquinho do Barro Branco
gerara seis filhos.
Antonio Antunes de Siqueira e seus filhos, netos (e bisnetos?).
Sinhazinha está à direita de seu pai.
Cerca de 1927. São José do Calçado (ES).
Quando desposou Maria
Amélia Ribeiro, Antonico Antunes era um viúvo na casa dos 50 anos e ela,
uma viúva na casa dos 25. As proles de ambos somavam onze crianças vivas; o
novo casal produziu mais nove filhos: Antonio (morto bebê), Braz, José, João,
Antonino, Gastão, Joviano, Otaviano e Maria Amélia da Conceição. A matemática
absurda dessa sucessão de casamentos gerou o fato de que minha bisavó criou
quase trinta filhos e enteados!!! Todos tinham os nomes católicos de estilo,
mas eram conhecidos por seus apelidos (Nenzinha, Filhinha, Tudinha,
Carlitos, Zezé e outros.). Sinhazinha está à direita de seu pai.
Cerca de 1927. São José do Calçado (ES).
Sinhazinha, aos 12 anos.
São José do Calçado (ES), 1929.
Minha avó, que, ao ser
registrada no cartório da pequena São José do Calçado (ES), onde nasceu a 15 de
janeiro de 1917, era a ÚLTIMA desses entroncamentos genealógicos[2],
ganhou o prenome triplo de Maria Amélia da Conceição, sempre alegou que
seu nome seria apenas “Maria da Conceição” mas que o escrivão acrescentou o
“Amélia” por causa do nome da mãe e da avó materna (a primeira Maria Amelia da Conceição e a
segunda Amelia Maria da Conceição). Não se sabe se foi assim, mas é muito provável que tenha
sido. Ao nascer, após vinte irmãos e meios-irmãos, ela foi “oficialmente”
declarada SINHAZINHA de todos eles por Antonico Antunes. Em 20 de junho de 1917, a pequena Maria (consta só isso no registro paroquial) foi levada à pia batismal por Demerval Medina e Áurea Álvares Medina, na Igreja Matriz de São José do Calçado.
Antonico Antunes, sua mulher Maria Amélia de Siqueira,
seu filho José (Zezé), sua filha Sinhazinha (seg. da esq. p/ dir.) e a neta, Lanta.
Cerca de 1932. Praça XV, Rio de Janeiro.
seu filho José (Zezé), sua filha Sinhazinha (seg. da esq. p/ dir.) e a neta, Lanta.
Cerca de 1932. Praça XV, Rio de Janeiro.
Pelo que ouvi e interpretei
do que minha avó sempre me contou, Antonico Antunes era uma pessoa autoritária, racista e
vaidosa — ou “besta”, no linguajar mineiro daqueles anos 1910, 1920 e 1930. Era antipático aos pretos e se negava a cumprimentá-los quando
“ousavam” lhe estender as mãos. Já contei, em outro texto, o que ele dizia
nessas horas: “Tu não te enxergas, negro!”... Todavia, quando estava à morte,
um médico negro cuidou dele e, ao morrer, este mesmo médico carregou uma
das alças de seu caixão. Esse paradoxo gritante sempre me chamou a atenção,
pois minha avó era, ela própria, racista e preconceituosa, como de resto a
imensa e esmagadora maioria de seus contemporâneos.
Quando ela adoeceu, no
início de 2005, vítima de um câncer de pâncreas, altamente letal, acompanhei
com minhas tias e meu pai seus últimos dias no hospital e pude ver cenas
inusitadas. Uma delas era que ela beijava a mão de muitas das pessoas que a iam
ver. Tirante o bom Padre Carmine Pascale, que levei na festa de Santo Antonio
(13 de junho) para ministrar-lhe os Santos Sacramentos, era estranho a mim ver
Vovó Sinhazinha beijando a mão de diversos “inferiores hierárquicos” dela, como
sua sobrinha Terezinha de Jesus Siqueira ou a moça que limpava o quarto, uma
servente negra... Beijava-lhes a mão e chorava, sempre...
Estranho, mas não
incompreensível. Tal como muito provavelmente ocorrera com o pai dela,
aproximando-se da morte e verdadeiramente se arrependendo, em seu coração, por
décadas de comportamentos preconceituosos e racistas, Vovó Sinhazinha se redimia
antes de se apresentar ao Todo-Poderoso no qual ela acreditou por toda a vida.
Católica fiel e devotada, rezava diariamente, às 15h, durante uma hora, fechada
em seu quarto, sem que ninguém pudesse interromper. Implorava a Deus e a Nossa
Senhora Aparecida (nossa Mãe do Céu preta!) pelos filhos, netos, parentes e,
também, pelas “crianças que perambulam pelas ruas, pelos velhos abandonados
etc.”, conforme ela me narrava quando eu lhe perguntava do que se compunham
suas prédicas.
Sua filiação ao Catolicismo
era incondicional, até por não simpatizar e desconhecer as demais religiões
cristãs e não-cristãs. Mas ela não ia à Missa aos domingos, contrariamente ao
que se dera com sua mãe e a imensa maioria de seus antepassados, mulheres e
homens de famílias muito religiosas e cheias de cônegos. Nisso já havia algum
tipo de ruptura, ainda que ela não soubesse e nem quisesse saber como explicar.
Ela me dizia que seu pai
era muito emotivo e que chorava muito. Quando via um filho, quando abençoava um
neto, quando encontrava um velho amigo. Ela era igual... Algo que talvez se
aproximasse da mania depressiva, mais do que de uma simples melancolia. Após a
perda de toda sua fratria — o último a ir foi Tio Gastão Antunes de Siqueira
(†2003), que eu visitava muito em Icaraí, junto com Vovó — e da sua
queridíssima amiga de infância Maria da Conceição Cerqueira Cardoso de Campos —
Pequetita[3],
sobrinha de meu avô Lelé, que se foi em março de 2005 —, suas angústias
e tristezas somatizaram o câncer que a ceifou[4].
Vovó tinha por mim um
carinho especial. De seus três únicos netos, eu era o do meio e “sobrava”, de
algum modo, entre um irmão primogênito e homônimo de meu pai e um mais novo,
eterno enfant gatté de minha mãe. Desde muito pequeno eu amava
profundamente ela e tudo que representava: o passado, o poder, a autoridade, a
família, a religião. De fato ela sempre encarnou para mim valores dos mais
tremendos e que, hoje, entendo por que são considerados arcaizantes por tantos
filósofos, historiadores e cientistas sociais em geral.
Um dos paradoxos mais
interessantes a mim, e que responde em grande parte pela personalidade
isabelófila que desenvolvi, era sua relação de amor/ódio com Dona Isabel
(1846-1921), a Redentora da História do Brasil. Ela sempre dizia que “a culpa
das coisas darem errado no Brasil é da Princesa Isabel, que libertou a
negrada e provocou a desordem”; essa era a fórmula paterna. De outro lado, ela
me contava em detalhes e com entusiasmo a alegria de sua mãe quando, aos 13
anos, assistiu às festas pela Abolição (1888) na fazenda do pai e na Zona da
Mata de uma maneira geral. Enquanto narrava, Vovó embargava a voz... humano,
demasiado humano...
Voltemos a sua biografia.
Aos treze anos de idade, Sinhazinha foi obrigada a noivar com o jovem
Eristhildes Euzebio, o Lelé. O apelido, embora se assemelhe ao vocábulo
popular que designa uma pessoa “doida”, não tinha essa conotação específica e
era um dos muitos que definiam a prole de Joaquim Mendes de Cerqueira
(1877-1954) e sua mulher, Jozina (nascida Lomeu de Oliveira Bastos) — os irmãos de Lelé eram Quidinho (Euclides), Belinha (Elvira), Tide (Erothilde), Ladinho (Esberalde), Didi (Edivaldo), Edith e Elsa. Em outra
oportunidade falarei desses meus bisavós, tios-avós e suas histórias.
Lelé era uma
espécie de “playboy” rural da época — um agroboy, diríamos hoje. Seu pai saíra de São Paulo de Muriahé
(MG) em meados da década de 1910 para se estabelecer em Bom Jesus do Itabapoana,
noroeste do Estado do Rio de Janeiro, na divisa com o Espírito Santo. Não sei
se houve briga familiar, por partilha e coisas do gênero, mas o fato é que Sô
Quinca Cerqueira foi viver com seus filhos e colonos na pacata Bom Jesus,
então distrito do Município de Itaperuna.
Em Muriaé e nas pequenas
cidades erguidas na ribeira do rio de mesmo nome, em Minas e no Rio, os
Cerqueira eram potentados rurais com os demais landlords (expressão
rebouciana) que haviam desbravado a Zona da Mata mineira: os Pinto, os Cezar,
os Penna, os Garcia, os Bastos e outros. É o que nos relata o livro “Terra da
Promissão” (1956), do Major Porphyrio Henriques da Silva (1868-1953), um
deputado da antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sediada em Niterói. Porphyrio
Henriques havia sido, na infância e adolescência, um colono
da família Cerqueira Bastos.
Lelé nasceu em
Muriaé, em 14 de outubro de 1910, na Fazenda Boa Sorte[5]. Foi
dificílimo para mim descobrir no livro de batismo paroquial seu registro, pois
o padre o batizou como “Arestides” por obviamente desconhecer as manias de
Jozina Lomeu de Cerqueira no quesito “nomes exóticos”. O padrinho de Lelé
era o Coronel Domiciano Antonio Monteiro de Castro (1821-?), seu tio-avô-afim,
pois que a esposa dele e madrinha do bebê era Landolina Mendes de Cerqueira, a
tia de Sô Quinca Cerqueira. Domiciano de Castro, que
presidiu a Câmara Municipal de Muriaé na década de 1880, era sobrinho do 1º
Barão de Leopoldina, Manoel José Monteiro de Castro (1805-1868) e do 2º Barão
de Congonhas do Campo, Lucas Antonio Monteiro de Castro (1812-1878). Os
Monteiro de Castro são o ramo leopoldinense dos poderosos Monteiro de Barros,
espraiados em todas as Minas Gerais...
O noivado de Lelé e
Sinhazinha, em 1930, foi um desejo dele, que se encantou pela donzela
numa festa ou quermesse ocorrida em Bom Jesus. A moça era de “fechar o comércio”,
como se dizia, ou seja, muito bonitinha. Mas não queria nenhuma obrigação, pois
em suas palavras “queria jogar peteca, pular corda, brincar de boneca” e Lelé
queria noivar (leia-se namorar). Da obstinação do noivo e do desprezo da noiva
nasceu um compromisso que, frise-se, não era almejado pela mãe e algumas irmãs
do jovem Lelé. Já ele, o mancebo, andava armado, como os outros jovens
ricos de sua época também faziam, e dizia à noiva que se ela não o quisesse, se teimasse em desprezá-lo, ele dispensaria “seis balas do revólver” no rapaz que ousasse se aproximar dela, bem como nela própria, situação que incutia um medo considerável na pequena Sinhazinha.
Os Cerqueira eram uma das famílias mais ricas na Bom Jesus daqueles tempos. O primeiro automóvel da cidade,
importado do Reino Unido no início dos anos 1920, pertencia a Dona Jozina, uma
“coronela” bem mais imperiosa do que seu pacato marido... A sede da fazenda central
da família possuía banheiro (salle de bains) e era decorada com afrescos
e tapeçarias europeias. Eles produziam açúcar, café, material de olaria e
tinham casas de aluguel e outras rendas.
Já Sinhazinha,
apesar da origem "nobre", era pobre. Pois que ao nascer seu pai havia dilapidado
integralmente o patrimônio da terceira e última esposa, a viúva do rico Chiquinho
do Barro Branco. Nas mesas de pôquer, o perdulário Antonico Antunes
desfez-se de terras, gados, casas que, observe-se bem, não eram suas, mas que
pelo Código Civil de então cabia-lhe administrar, sendo a mulher uma
“incapaz”. O resultado dos desatinos do marido foi conceder a Maria Amelia uma
velhice pobre e insegura. O casal foi separado pelos filhos nessa ocasião,
quando Sinhazinha era uma criança de talvez 10 anos. As filhas de Maria
Amelia e Chiquinho do Barro Branco, por motivos óbvios, odiavam o marido
de sua mãe e transferiam aos seus meios-irmãos esse ódio; algo comum, bem
comum...
A mais velha dessas irmãs,
Bezica (Maria Teixeira de Siqueira) era casada com Leonides Furtado
Tardin (1888-1985), administrador da fazenda de Sô Quinca Cerqueira e,
ele mesmo, pequeno agricultor. Com ela viviam a mãe e a irmãzinha menor, Sinhazinha.
Bezica e suas irmãs Neném (Leonor) e Pitita (Francisca)
tiranizavam-nas, uma vez que não podiam fazer nada contra Antonico Antunes,
já idoso e acamado em casa de um filho, no Calçado (ES).
De maneira que a infância
de Sinhazinha foi sofrida, com humilhações constantes de suas irmãs
maternas. Foi necessário que morresse o pai de Maria Amélia, avô de nossa
biografada, para que elas pudessem, com a partilha da herança do pequeno
fazendeiro luso-brasileiro João Caetano da Costa Ribeiro (†1932)[6],
adquirir uma casinha e sair da residência de Bezica. Juntos foram com
elas os antigos escravizados Tia Fidá, Modesto e Generosa,
amantíssimos de sua sinhá Maria Amelia, a qual, em criança, saía do quarto de
madrugada para apanhar na dispensa de sua casa alimentos os mais diversos e
levar para a senzala...
Vivendo sozinha, embora
sempre muito visitada — lembremos dos cerca de 30 filhos e enteados que criou —
Maria Amélia temia morrer e deixar no desamparo sua caçula, motivo pelo qual
aceitou de bom grado que o menino Lelé noivasse com ela, mesmo que a
contragosto da menina. Como já dissemos acima, o noivado desagradava Sá
Josina e especialmente sua filha mais velha, Belinha (Elvira), mas
era bastante abençoado por Quinca Cerqueira, um bon-vivant que
adorava as mulheres, a música e a religião... Ultracatólico, e cheio de
amantes e filhos bastardos — aos quais nunca desamparava —, o latifundiário era
um violeiro adorado por todos que o conheciam. Como minha avó sempre repetiu
para mim, “Sô Quinca Cerqueira gostava de todos: ricos, pobres, brancos,
pretos, de forma que todos o amavam”.
Certa feita, irritado com
a irmã mais velha que o desejava noivo de uma prima rica, do ramo
Cerqueira-Pinto, Lelé desligou o gerador de energia da fazenda que
mantinha a “luz própria” daquela casa-grande enquanto toda Bom Jesus dormia,
após as 20 horas. Isso ocorreu na ocasião de uma grande festa, parece que
noivado de um dos irmãos de Lelé, e causou rebuliço no lugarejo...
E foi assim que a 21 de
junho de 1934 uniram-se em matrimônio os jovens Eristhildes Euzebio e Maria
Amélia da Conceição. Acompanharam-nos apenas a mãe da noiva e poucos irmãos
seus. Da família do noivo, a demonstrar o repúdio, não foi ninguém, por ordem
expressa de Dona Jozina, a quem até o marido temia... Lelé desposou sua
amada Sinhazinha, embora ela jamais o tenha amado, apenas respeitado,
conforme sempre ressaltou.
Quanto à família de Lelé,
todo o seu orgulho de classe e de casta estava com os dias contados... Entre
1936 e 1937 — não pude apurar, até hoje —, Sô Quinca Cerqueira foi
enredado por três “amigos” e assinou duplicatas que somavam a absurda e vultosa
quantia de 300 contos de réis[7].
Dois deles eram advogados e o outro, fazendeiro de prestígio no local, era
Francisco Ribeiro Aquino, o Chichico das Areias (do nome de sua
propriedade, a Fazenda das Areias), que consta ter sido neto do Barão de Aquino
(1837-1921). O interessante é visualizar, através do portal Geneall.net,
que um dos filhos do Barão de Aquino, também Francisco, era marido de Rita de
Cássia Antunes de Siqueira Domingues, uma prima de Antonico Antunes...
As duplicatas, acertadas
no sistema financeiro carioca, foram motivo de discórdia do casal
Joaquim-Josina, pois que a mulher não queria assiná-las de nenhuma forma e o
marido, eterno fiador de seus amigos, impôs o negócio jurídico. Não tendo sido
saldadas as duplicatas, os bancos do Rio de Janeiro foram a Bom Jesus do
Itabapoana confiscar a quase totalidade dos bens de Joaquim Mendes de
Cerqueira, levando-o à bancarrota. Após a fase em que filhos e colonos pensaram
em matar Chichico
das Areias e os comparsas na ação, a família retirou-se para Rio Bonito, interior
do Estado do Rio de Janeiro, onde se estabeleceram em pequena chácara.
A débâcle deixou
cicatrizes profundas, em todos.
Lelé e Sinhazinha com a filha Marildes.
1938/1939. Niterói (RJ).
1938/1939. Niterói (RJ).
O primeiro filho de Sinhazinha
e Lelé, Sebastião Antunes de Cerqueira — o nome de família passou a ser
a junção do primeiro nome paterno da mãe, Antunes, com o Cerqueira, pois ela
rejeitava peremptoriamente que seus filhos se chamassem Siqueira de
Cerqueira — foi bebê enfermiço. Nascera em 8 de janeiro de 1936 e falecera
meses depois, vitimado pela desidratação (!). O segundo filho foi Marildes,
nascida em Bom Jesus
no 1º de janeiro de 1937; o terceiro foi o temporão Antonio, nascido em 16 de
dezembro de 1949, em São
Gonçalo , e a última foi Maria da Graça, nascida em 25 de maio
de 1954, no Hospital Universitário Antonio Pedro, recém-inaugurado em Niterói
pelo Presidente Getúlio Vargas.
Dos píncaros de uma sociedade
pequena e rural para a vida nos arredores da capital de seu Estado, a vida se
mostrou duríssima para o casal. Lelé fora aluno do célebre Colégio
Bittencourt, de Campos dos Goytacazes, que reunia quase todos os filhos das
classes dirigentes do Norte Fluminense. Contudo, acompanhou seus irmãos mais
velhos nas inúmeras fugas que intentavam, retornando a Bom Jesus e teimando em
não estudar; algo que certamente causava cizânia entre Sô Quinca Cerqueira
e Sá Jozina... O resultado foi que na clivagem profunda que separa os
que recebem e os que não recebem educação formal, em pleno Brasil da
República Velha e da Era Vargas, Lelé se tornou um operário,
literalmente um torneiro mecânico, pois que adorava mexer com ferramentas,
madeiras e outras peças manuais.
Essa é uma parte da psique
de meu avô que jamais pude compreender. Como não o conheci — ele morreu quando
eu tinha 7 anos —, apenas pelos relatos de sua viúva, nunca entendi o porquê de
sua radical opção por algo tão “desaristocratizante”. Lembremos que os antigos
códigos morais da nobreza lusitana ditavam que apenas um trabalho braçal não
fazia com que se perdesse a “condição fidalga”: lavrar terras. Todo o resto era
considerado vexaminoso e, em especial, as atividades mecânicas eram tidas por
desonrosas. Por mais arcaico e absurdo isso nos pareça em pleno século XXI, é
óbvio que às mentes de Lelé e Sinhazinha e sua parentela nada
disso passava despercebido, ainda que as filigranas de legislações
nobiliárquicas avoengas lhes fossem completamente alheias.
Por outro lado, sabendo do
gosto enorme por máquinas e engrenagens que tinha o jovem Lelé é de se
imaginar que, se letrado, pudesse ter sido engenheiro mecânico, mas não tendo
seguido a vida acadêmica normal, foi-lhe impossível essa via. Também não se
deve desprezar o fato de que, segundo Sinhazinha, Lelé sempre
destoou muito de seus familiares, no quesito “orgulho de casta”, o que vale
dizer que não era aristocracista[8] .
Ele era um dos filhos de Sô Quinca que mais se dava com os colonos,
preferindo comer no meio deles quando das matanças de animais (bois, porcos,
cordeiros, aves) que regavam, comumente, as festas da fazenda. Causava-lhe
tanto asco ver esse espetáculo mórbido que passou toda vida comendo cereais e
legumes com frango ou peixe, tout court.
Lelé tinha uma
personalidade um tanto rude, é inegável. Enquanto Sinhazinha abraçou com
afinco seus dotes manuais artísticos, tornando-se exímia costureira e sabendo
como ninguém bordar, crochetar, tricotar, o marido queria apenas e tão-somente
voltar-se para a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, ramo da
norte-americana Hime and Comp., instalada no distrito de Neves, em São Gonçalo.
Sobre o papel que o ofício
escolhido por Sinhazinha exercia na vida dos “parentes pobres” das
diferentes oligarquias, diz Sérgio Micelli em “Poder, sexo e letras na
República Velha” (São Paulo: Perspectiva, 1977):
A costura possibilita aos “parentes pobres” o acesso às famílias dominantes de sua classe de origem, com tudo o que tal proximidade implica em termos de prospecção de postos e de carreiras disponíveis para seus filhos e para si mesmos. Tendo em vista que o trabalho feminino e seus produtos (educação dos filhos, trabalhos domésticos, trabalho de costura etc.) são desvalorizados, o capital de relações propicia lucros ainda menores quando, como no caso de Humberto, o recurso à oligarquia se faz por intermédio da mãe. A costura simboliza a própria relação em falso dos “parentes pobres” com a oligarquia, vale dizer, o “gosto” constitui o único bem que lhes sobrou de sua convivência com ela. Os bens produzidos pelo trabalho manual feminino — como, por exemplo, a costura — apresentam inúmeros traços comuns com os bens simbólicos em geral, na medida em que sua produção exige uma competência que só pode ser adquirida pela posse de um habitus de classe apropriado, isto é, por uma mesma origem de classe. O “gosto” e os contatos sociais requeridos pelos trabalhos de costura encomendado pela oligarquia pressupõem o domínio prático de todo o estilo de vida dessa classe. (...) Por exigir muitos cuidados, minúcias e um bom acabamento, condições indispensáveis para produzir diferenças mínimas, a costura é ao mesmo tempo a mediação prática pela qual um dado agente interioriza a experiência do declínio (em especial, a perda do capital econômico) e por meio da qual um novo projeto, a vocação intelectual pode concretizar-se pela feminização da família e da criança.
Embora rígida em matéria de moral e costumes, Sinhazinha adorava as idas ao Cassino da Urca, em geral na companhia de seu irmão mais velho, o Major Siqueira (Braz Antunes de Siqueira), o qual inclusive parece que combateu na II Guerra Mundial. Outro fator de diversão imensa dela eram as idas à Rádio Mayrink Veiga e à Rádio Nacional, nos “anos dourados”. Conheceu de perto e tietou um sem-número de grandes cantores, radialistas, atrizes e atores.
Desde as radionovelas, era
uma fã incondicional desse gênero artístico e conhecia a biografia de muitos
dos grandes intérpretes. Nos últimos anos de vida, contudo, perdeu o vigor no
apreço pelos rocamboles globais; considerava tudo muito decadente e erotizado, o que lhe incomodava. Vovó deixou pencas de fotos autografadas
e bilhetes dessas personagens, misturadas às fotos de família... o que me faz
pensar no forte desejo de ter pertencido, de alguma forma, àquele mundo de glamour.
Talvez exatamente por isso me tenha dito, várias vezes, quando criança, que eu
poderia ser ator. Quando, porém, na adolescência, externei a vontade de ser
padre, já que sempre me identifiquei enormemente com a Igreja onde nasci e
cresci, ela foi a maior entusiasta, desde o início. Nem o sabia, mas
descendia por vias colaterais de dezenas de sacerdotes...
Apesar de não ser gorda,
era glutona, e devorava uma caixa de sorvete de flocos durante o prazo de um
dia... Preferia imensamente doces a salgados. No trato com as empregadas, que
preparavam-lhe as guloseimas, nunca era ríspida, mas sempre autoritária,
docemente autoritária, devo dizer... Aliás, nesse quesito, é forçoso reconhecer
como nela o amor e a autoridade, a afetuosidade e a autocracia, se coadunavam
de modo impressionante.
Minha avó tinha uma
inteligência aguçada e um víeis cômico latente. Mal sabia ela que seu avô,
Felício Antunes de Siqueira, antigo fiscal da Câmara Municipal de Ubá, fora o primeiro empresário circense de todo Norte
Fluminense, no século XIX. Mas ela nem sonhou em conhecer o pai de seu pai.
Afinal, quando Sinhazinha nasceu, Antonico estava com 65 anos...
Junto a Sinhazinha
e seus filhos foi viver a idosa Maria Amélia, venerada por toda sua numerosa
descendência. Suas filhas mais velhas fizeram bons casamentos, para a época, e
as filhas delas também. Entre as netas de Maria Amélia com as quais a tia Sinhazinha
se dava muito bem estavam Arlette (1920) e Arleida (1924); a primeira, com o
marido Raul Gilberti, é a madrinha de Maria da Graça; a segunda, com o marido
Miguel José Cassab (1916-1997), é a madrinha de Antonio.
Raul Gilberti (1914-1981),
capixaba de Colatina, graduou-se em Medicina no Rio de Janeiro e voltou à terra
natal para a política local. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de
Colatina (1950-1954), prefeito (1956-1959) e vice-governador do Estado do
Espírito Santo (1958-1962). Eleito Senador da República em 1962, ficou na casa
até 1971.
Maria Amelia de Siqueira —
era assim que se assinava —, devota de Maria Santíssima, São José e Santo
Antônio, foi uma ativa paroquiana da comunidade de Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho , distrito
de Neves, Município de São Gonçalo. O histórico dessa paróquia aponta que em
1942 um grupo de moradores, mormente senhoras, se reuniu para construir uma
capela onde o vigário de Santo Antônio, na Covanca, pudesse celebrar aos
domingos e dias santificados. Cinco anos depois, quando o Papa Pio XI
(1857-1939) canonizou S. Catarina Labouré (1806-1876) deu-se o início da
construção da cripta, com dinheiro de gente de toda parte. Maria Amelia foi uma
das chefas desse movimento e pediu a Sinhazinha que se tivesse mais uma
filha a chamasse “Maria das Graças”, o que se deu em 1954, tendo Lelé
optado, contudo, por “Maria da Graça”.
O desaparecimento de Maria
Amélia, extremamente simbólico, deu-se uma década depois. Era o dia 13 de junho
de 1965. Durante a procissão de S. Antônio, naquela comunidade de Neves, em São Gonçalo , todos
assistiam curiosa e piedosamente à aproximação do andor, carregado pelos varões
católicos. Quando o andor passou em frente à casa de Lelé e Sinhazinha,
Maria Amélia expirou... Zelson Tardin, filho de Bezica, gritou: “Vovó
morreu!” e todos foram para o quarto beijar a mão da queridíssima matriarca.
Com ela morria também grande parte do passado profundamente rural daquela
imensa progênie.
Os filhos de Sinhazinha
e Lelé e os demais netos e bisnetos de Maria Amélia tiveram, todos,
acesso a boa educação e se encaminharam, uns para a vida acadêmica, outros para
o mundo da Medicina, do Direito, das profissões liberais etc.
Como exemplo, temos na
atual Colatina o cardiologista Antonio Tadeu Tardin Giuberti, filho de Raul e
de Arlette. Antonio Giuberti já foi o prefeito do município em dois mandatos:
1983-1988 e 1993-1996.
Na Universidade Federal de
Juiz de Fora (MG), a assistente social Maria Aparecida Tardin Cassab (1956)
leciona na Faculdade de Serviço Social. No Museu de Ciências da Terra, do
Departamento Nacional de Produção Mineral, atua a paleontóloga Rita de Cássia
Tardin Cassab (1948), irmã da anterior.
Na Universidade Federal
Fluminense (UFF) coordena o departamento de Patologia Clínica da Faculdade de
Medicina a bioquímica Maria da Graça Antunes de Cerqueira Saback Sampaio, minha
tia. Sua irmã mais velha, Marildes, contadora e advogada, foi servidora de
carreira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Meu pai, Antonio Antunes
de Cerqueira, casou-se em 1974, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora
(casa-mãe dos Salesianos do Brasil) em Niterói, com Leila Maria Souza da Silva
(1949), natural de São Pedro da Aldeia. Antonio é professor aposentado de
Música, de Português e de Inglês; lecionou durante mais de trinta anos em
diversos colégios católicos de Niterói. Leila, que foi professora primária, é assistente social e servidora aposentada do INSS. Eles geraram Antonio Júnior (1975), Bruno (1979) e
Cristiano (1980); divorciaram-se em 1987.
Dona Maria Amélia da Conceição Antunes de Cerqueira e o
neto Bruno e Dona Juracy Baptista de Souza da Silva
e o neto Cristiano. Santa Rosa, Niterói (RJ), 1981.
Meu irmão Cristiano (professor de Educação Física, treinador paralímpico e oficial de Marinha) já me deu a sobrinha-afilhada Luana de Souza Cerqueira (2001) e Manuela (2013); meu irmão Antonio Júnior (servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro), os sobrinhos João Pedro Araújo Antunes de Cerqueira (2004) e Maria Eduarda Araújo Antunes de Cerqueira (2006).
Dona Sinhazinha, seus filhos e netos, na entrada do Ed. Mônaco.
Icaraí, Niterói (RJ), 1990.
Icaraí, Niterói (RJ), 1990.
Que descansem em paz meus
queridos avós paternos. Rabiscando estas poucas
linhas e as esparsas pesquisas que as embasam, homenageio Vovô Lelé e Vovó
Sinhazinha, inclusive por fazer algo que sempre foi sonho dela: escrever
sua vida...
Bruno
da Silva Antunes de Cerqueira*
Brasília, 15 de janeiro de
2014
(97º aniversário de nascimento de Sinhazinha)
[1] Não sei informar se existe
parentesco entre os Teixeira-de-Siqueira e os Antunes-de-Siqueira. Não deixa de
ser interessante que muitos dos netos de Antonico Antunes se referissem
à mulher do avô como “a Prima”, segundo me contaram sobrinhas de minha avó. Mas
isso podia ser mera usança. Outro enigma genealógico para mim constitui saber
se o Visconde de Itabapoana, Luiz Antonio de Siqueira (1796-1879), coronel da
Guarda Nacional, tinha alguma conexão com ambos os clãs...
[2]
“Entrelaçamento Genealógico” é justamente o livro que o Engenheiro José
Côrtes Sigaud (1896-1951) escreveu para dar conta dos casamentos entre os
Côrtes, os Figueiredo, os Sigaud, os Antunes de Siqueira, os Guedes, os
Villas-Boas, os Couto, os Teixeira Leite et alii. A obra foi publicada
postumamente, pelo General Agostinho Teixeira Côrtes, em 1968.
[3] Sinhazinha e Pequetita, amigas de
vida inteira, jazem enterradas uma em diagonal à outra, no Cemitério do Parque
da Colina, em Niterói...
[4] A última pessoa a estar com ela
antes do momento derradeiro fui eu, quem a levou para o CTI junto com os
maqueiros. Eu sabia que não mais a veria viva, embora jamais estejamos
plenamente preparados para isso. Já vertendo lágrimas, eu lhe disse “Vó, tudo
com Nossa Senhora!” e me retirei, sob as ordens dos funcionários do setor.
Algumas horas depois, às 15h daquele Domingo, eles anunciaram que ela havia
morrido...
[5]
O nome me intriga: seria prenúncio do que ocorreria com seu núcleo familiar...?
[6] A morte de Sô João Ribeiro
também me foi contada por Vovó diversas vezes. Enquanto ofegava, todos rezavam
a sua volta e ele dizia “Jesus está vindo! Vinde Senhor Jesus!”. E partiu...
[7] Algo em torno de 40 milhões de reais,
segundo alguns dados econômicos — cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9is. Contudo, se o valor aquisitivo da liquidez dos bens for aferido, a soma tende a ser consideravelmente superior.
[8]
Conforme costumo ressaltar, aristocracismo difere conceitualmente de
aristocracia. É um conjunto de atitudes e comportamentos que repugna
particularmente aos pensadores gramscianos. O ethos aristocrático
valoriza a honra, a glória, a nobreza, mas enaltece e propugna a solidariedade,
a fraternidade, a caridade social. O aristocracismo é o orgulho desmedido pelas
origens e pela condição social superior, e aparta-se completamente da realidade
circundante. Aplicando-se as filosofias tanto de Karl Marx (1818-1883), quanto de Sigmund Freud (1856-1939) — que se alimentam, em grande medida, do judaico-cristianismo —, é uma das
formas mais aparentes da alienação.
* Bruno da Silva Antunes de Cerqueira é graduado em História na PUC-Rio, pós-graduado em Relações Internacionais pelo Iuperj/Ucam, bacharelando em Direito no UniCEUB. É indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio (Funai). Fundou e gere o Instituto Cultural D. Isabel I a Redentora (www.idisabel.org.br); é sócio e foi diretor de publicações do Colégio Brasileiro de Genealogia (www.cbg.org.br). É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói.
* Bruno da Silva Antunes de Cerqueira é graduado em História na PUC-Rio, pós-graduado em Relações Internacionais pelo Iuperj/Ucam, bacharelando em Direito no UniCEUB. É indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio (Funai). Fundou e gere o Instituto Cultural D. Isabel I a Redentora (www.idisabel.org.br); é sócio e foi diretor de publicações do Colégio Brasileiro de Genealogia (www.cbg.org.br). É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói.